Como conseguir falar sobre as mulheres búlgaras se, nem ao menos, sabemos a que horas do dia elas preferem existir? Tropeçamos como bêbados sobre a tela de nossas próprias percepções (e não paramos). Fomos expulsos do centro do Labirinto e estamos condenados a procurá-lo pelo mundo, como quem retirasse calmamente um livro do congelador. Neste ponto cego que é a vida, algumas búlgaras, ou possivelmente húngaras, nos chegam aqui mais oblíquas do que nunca para tentar nos acalmar. São elas: Nina Dobreva, Brigitta Bulgari, Zsa Zsa Gabor, Annina Brandel, e até mesmo a diva, deusa global, cantora, apresentadora, diretora, empresária, produtora cinematográfica e musical, a encantadora Cherilyn Sarkisian provinda da Armênia – país sem costa marítima – mais conhecida pela alcunha acanhada de CHER. Cada uma delas troca gesticulações pelo quadrante de um despertador, que soa sessenta segundos, cada minuto. Neste nó desvairado de desenganos tudo pode mudar de repente para quem observa o mistério búlgaro desde os primeiros contatos até as definitivas trocas de olhares.
Uma búlgara – quando existe – é sempre questionadora, conseguindo até se debater por meses a fio sobre conceitos que a humanidade trabalha há séculos. Aqui, no parágrafo ZERO da escrita, os limites palpáveis deste país talvez sejam determinados como consequência da permanência de uma diáspora de nenhumidade. Seria quase impensável ver uma búlgara arruinada em seus próprios nervos; muito excepcionalmente ela te responderá com alguma nitidez. Isto pode ser comprovado na simpática entrevista da atriz hollywoodiana Nina Dobreva, titulada “Tenho orgulho de ser búlgara!”. Assim a aprendiz de vampira Dobreva cita sua adorada terra: “Meu lugar preferido lá é o Mar Negro, mas como tenho trabalhado durante os verões, não vou lá faz anos! Todos que me conhecem sabem que sou Búlgara e que tenho orgulho disso. Eu falo Búlgaro com a minha família, e quando meus amigos me ouvem falando, dizem: Nossa, você fala outra língua, isso é muito legal!”.
Os fios búlgaros dos cabelos das búlgaras podem facilmente sufocar quem por eles resolver se emaranhar. A atriz Joy Page, por exemplo, que interpretou a mulher búlgara recém-casada Annina Brandel no romance Casablanca (1942) – nascendo intermitentemente para o cinema – morreu em Los Angeles, cidade dos anjos norte-americanos, aos 83 anos, mas antes disso enrolou e entrelaçou muitos homens antes de se deitar para sempre em berço esplêndido. Ela só desejava que os rios de Sófia a levassem até os mares mais mortos que pudessem existir. Já a atriz Zsa Zsa Gabor, protagonista de Moulin Rouge, com sua “origem” húngara ou possivelmente búlgara, completará 94 anos no dia 6 de fevereiro, com seus belos coágulos de carne expostos miraculosamente ao sol. –“Tudo como era dantes no quartel de Abrantes, muita estrela pra pouca constelação. Depois de nós, só o dilúvio!”, é o que dizem os professores doutores Velichko Velikov e Nikola Orloev, que nos contam sobre outra ocorrência enigmática chamada Brigitta Bulgari. Agora vamos aos “fatos”.
Um cemitério na cidade movediça de Podvodka – situada na fronteira com a pálida menina chamada Grécia – quer demolir o túmulo da voluptuosa atriz Brigitta Bulgari, conhecida na indústria pornográfica como Sexy Wosnitza. O motivo: o túmulo seria muito sexy e estaria tumultuando o lugar. Curiosos querem ver a construção, enquanto visitantes de parentes mortos se sentem ofendidos. Brigitta Bulgari “morreu” em janeiro passado, aos 23 anos, após complicações em uma cirurgia para aumentar o silicone nos seios de 750 para 900 ml. O túmulo da atriz, construído por seu viúvo, Ivan Wosnitza, custou cerca de U$$ 40 mil e inclui fotos dela, além da estátua de um anjo. Diante da repercussão, o viúvo planeja contratar seguranças particulares para garantir que o túmulo não seja demolido. “Ela era uma mulher bonita, não entendo como isso pode ser ofensivo”, ele disse a um jornal local. Ela era uma estrela premiada, modelo, ex-Big Brother, e já tinha sido hospitalizada em 2009 durante uma tentativa de bater o recorde mundial de sexo oral em 24 horas. A “atriz” pretendia conversar com 200 homens, mas desistiu após o número 75 por se sentir levemente indisposta.
Uma búlgara – quando existe – é sempre questionadora, conseguindo até se debater por meses a fio sobre conceitos que a humanidade trabalha há séculos. Aqui, no parágrafo ZERO da escrita, os limites palpáveis deste país talvez sejam determinados como consequência da permanência de uma diáspora de nenhumidade. Seria quase impensável ver uma búlgara arruinada em seus próprios nervos; muito excepcionalmente ela te responderá com alguma nitidez. Isto pode ser comprovado na simpática entrevista da atriz hollywoodiana Nina Dobreva, titulada “Tenho orgulho de ser búlgara!”. Assim a aprendiz de vampira Dobreva cita sua adorada terra: “Meu lugar preferido lá é o Mar Negro, mas como tenho trabalhado durante os verões, não vou lá faz anos! Todos que me conhecem sabem que sou Búlgara e que tenho orgulho disso. Eu falo Búlgaro com a minha família, e quando meus amigos me ouvem falando, dizem: Nossa, você fala outra língua, isso é muito legal!”.
Os fios búlgaros dos cabelos das búlgaras podem facilmente sufocar quem por eles resolver se emaranhar. A atriz Joy Page, por exemplo, que interpretou a mulher búlgara recém-casada Annina Brandel no romance Casablanca (1942) – nascendo intermitentemente para o cinema – morreu em Los Angeles, cidade dos anjos norte-americanos, aos 83 anos, mas antes disso enrolou e entrelaçou muitos homens antes de se deitar para sempre em berço esplêndido. Ela só desejava que os rios de Sófia a levassem até os mares mais mortos que pudessem existir. Já a atriz Zsa Zsa Gabor, protagonista de Moulin Rouge, com sua “origem” húngara ou possivelmente búlgara, completará 94 anos no dia 6 de fevereiro, com seus belos coágulos de carne expostos miraculosamente ao sol. –“Tudo como era dantes no quartel de Abrantes, muita estrela pra pouca constelação. Depois de nós, só o dilúvio!”, é o que dizem os professores doutores Velichko Velikov e Nikola Orloev, que nos contam sobre outra ocorrência enigmática chamada Brigitta Bulgari. Agora vamos aos “fatos”.
Um cemitério na cidade movediça de Podvodka – situada na fronteira com a pálida menina chamada Grécia – quer demolir o túmulo da voluptuosa atriz Brigitta Bulgari, conhecida na indústria pornográfica como Sexy Wosnitza. O motivo: o túmulo seria muito sexy e estaria tumultuando o lugar. Curiosos querem ver a construção, enquanto visitantes de parentes mortos se sentem ofendidos. Brigitta Bulgari “morreu” em janeiro passado, aos 23 anos, após complicações em uma cirurgia para aumentar o silicone nos seios de 750 para 900 ml. O túmulo da atriz, construído por seu viúvo, Ivan Wosnitza, custou cerca de U$$ 40 mil e inclui fotos dela, além da estátua de um anjo. Diante da repercussão, o viúvo planeja contratar seguranças particulares para garantir que o túmulo não seja demolido. “Ela era uma mulher bonita, não entendo como isso pode ser ofensivo”, ele disse a um jornal local. Ela era uma estrela premiada, modelo, ex-Big Brother, e já tinha sido hospitalizada em 2009 durante uma tentativa de bater o recorde mundial de sexo oral em 24 horas. A “atriz” pretendia conversar com 200 homens, mas desistiu após o número 75 por se sentir levemente indisposta.
Em Sófia qualquer beco ou cruzamento sombrio de prédios atados por alfinetes pode ser um raio de sol. Se existir a Bulgária, pode ser hoje o dia de seus fios desencapados, agora a hora de palitar os dentes com milhares de volts. Vestidos de nudez diariamente os habitantes de Sófia abotoam suas camisas que pesam feito chumbo e saem de seus prédios (dinossauros de cimento) rumo ao que chamam de avenida pulsante; esta é uma de suas maiores aventuras: Aceitar e esquadrinhar o congestionamento de todo santo e venerável dia, incansável feito uma dívida que não tem hora para terminar. Mas até mesmo que a Bulgária não “exista”, mesmo assim, os jornais sairão quentinhos de qualquer banca de jornal. Os profetas do acontecido sempre hão de triunfar.
Do lado de fora do aquário, o passado de Sófia vai se escrevendo nos ângulos de suas autopistas e no arranhar de suas janelas. De alguma maneira Sófia permanecerá com suas lendas sobre sua origem frágil. Geralmente cada canção tradicional deste país é entoada em ritmo único e bailada ao ritmo seco dos gritos que se desdobram pelas suas fronteiras; não necessariamente humanas, mas invariavelmente búlgaras. Sófia rascunhada nos rasgos rasgados das brechas inundadas, nos cantos das fendas, nos rápidos restabelecimentos das suas máquinas de poeira; ali onde Sófia constrói o futuro sobre sua tradição, ao redor do famoso “Vale das Lágrimas dos Futuros Velhos”; ali existem elevações e planícies aéreas que circundam toda a costa do Mar Morto e de seu principal rio, o Danúbio, ao norte. Fora dos aquários do que já morreu e se esqueceu de deitar; o futuro dura muito tempo.
Um filósofo, supostamente búlgaro, opositor dos mais aclamados bulgarólogos, nos disse certa vez que tudo o que jaz no inferno das bibliotecas viria a lume na alta cidade crepuscular de Sófia. No escuro da entrega as flores também submergiriam deste vazio. Muitos são os que defendem a tese que Sófia é uma cidade palpável demais para ser real. Suas pavimentações se assemelhariam a meteoros e despenhadeiros, suas profundidades de tão planas carregariam uma cidade portátil. Seriam seus edifícios que sustentariam Sófia, como se esta dependesse (segundo a certeza de alguns ilustres astrobúlgaros) de pontes para se sustentar no espaço, pairando com suas áreas abertas nas linhas de uma levitação por onde as calçadas mais imediatas não conseguiriam alcançar.
Nos cenários de Sófia os mendicantes são as mais belas peças de decoração da maquete da cidade, ficam fabulosos no contraste plástico da pele com o asfalto, assim como púcaras ficam também as crianças búlgaras abandonadas portando púcaros, se abrigando nas marquises de deteriorados viadutos que talvez nem existam mais.
Nas cenas mais corriqueiras de Sófia – cidade deflorada – suas formas de vida são as mais modernas possíveis. Fabulosa é a epiderme das suas alamedas com seus bancos e estátuas reluzindo durante as tardes primaveris em que se é fácil perceber as diferenças entre os seus dois sóis – noturnos e diurnos. Lá onde toda forma de luz é um conflito, vagalumes são os poetas estudando o espaço. Cineastas se derretem pelos roteiros perturbadores que vão sendo construídos pelo pôr do sol do alto de Sófia. Anunciam os doutores que ou os búlgaros não existem, ou então somos nós os taciturnos. Pode ser que a hipótese mais verdadeira seja a outra: são eles que existem, nós não. Ou são os búlgaros inexistentes, ou os nãos nascidos somos nós. Talvez os médicos e os neurocirurgiões continuem a afirmar que o “estado búlgaro” não passe de uma tamanha inquietação, uma febre, uma suspensão momentânea da “razão”. Não dê ouvidos para eles. Escutar o que “eles” falam seria como pousar em cidades que nunca sairiam do papel. Como diria meu tetravô: “não me busqueis no texto, eu fui sonhado”.
[De "Fui à Bulgária procurar por Campos de Carvalho", 2012, 7Letras]
Do lado de fora do aquário, o passado de Sófia vai se escrevendo nos ângulos de suas autopistas e no arranhar de suas janelas. De alguma maneira Sófia permanecerá com suas lendas sobre sua origem frágil. Geralmente cada canção tradicional deste país é entoada em ritmo único e bailada ao ritmo seco dos gritos que se desdobram pelas suas fronteiras; não necessariamente humanas, mas invariavelmente búlgaras. Sófia rascunhada nos rasgos rasgados das brechas inundadas, nos cantos das fendas, nos rápidos restabelecimentos das suas máquinas de poeira; ali onde Sófia constrói o futuro sobre sua tradição, ao redor do famoso “Vale das Lágrimas dos Futuros Velhos”; ali existem elevações e planícies aéreas que circundam toda a costa do Mar Morto e de seu principal rio, o Danúbio, ao norte. Fora dos aquários do que já morreu e se esqueceu de deitar; o futuro dura muito tempo.
Um filósofo, supostamente búlgaro, opositor dos mais aclamados bulgarólogos, nos disse certa vez que tudo o que jaz no inferno das bibliotecas viria a lume na alta cidade crepuscular de Sófia. No escuro da entrega as flores também submergiriam deste vazio. Muitos são os que defendem a tese que Sófia é uma cidade palpável demais para ser real. Suas pavimentações se assemelhariam a meteoros e despenhadeiros, suas profundidades de tão planas carregariam uma cidade portátil. Seriam seus edifícios que sustentariam Sófia, como se esta dependesse (segundo a certeza de alguns ilustres astrobúlgaros) de pontes para se sustentar no espaço, pairando com suas áreas abertas nas linhas de uma levitação por onde as calçadas mais imediatas não conseguiriam alcançar.
Nos cenários de Sófia os mendicantes são as mais belas peças de decoração da maquete da cidade, ficam fabulosos no contraste plástico da pele com o asfalto, assim como púcaras ficam também as crianças búlgaras abandonadas portando púcaros, se abrigando nas marquises de deteriorados viadutos que talvez nem existam mais.
Nas cenas mais corriqueiras de Sófia – cidade deflorada – suas formas de vida são as mais modernas possíveis. Fabulosa é a epiderme das suas alamedas com seus bancos e estátuas reluzindo durante as tardes primaveris em que se é fácil perceber as diferenças entre os seus dois sóis – noturnos e diurnos. Lá onde toda forma de luz é um conflito, vagalumes são os poetas estudando o espaço. Cineastas se derretem pelos roteiros perturbadores que vão sendo construídos pelo pôr do sol do alto de Sófia. Anunciam os doutores que ou os búlgaros não existem, ou então somos nós os taciturnos. Pode ser que a hipótese mais verdadeira seja a outra: são eles que existem, nós não. Ou são os búlgaros inexistentes, ou os nãos nascidos somos nós. Talvez os médicos e os neurocirurgiões continuem a afirmar que o “estado búlgaro” não passe de uma tamanha inquietação, uma febre, uma suspensão momentânea da “razão”. Não dê ouvidos para eles. Escutar o que “eles” falam seria como pousar em cidades que nunca sairiam do papel. Como diria meu tetravô: “não me busqueis no texto, eu fui sonhado”.
[De "Fui à Bulgária procurar por Campos de Carvalho", 2012, 7Letras]
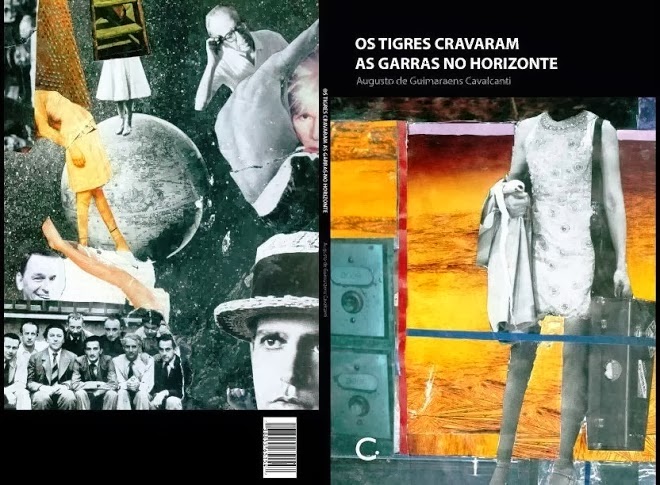





 ctot
ctot








